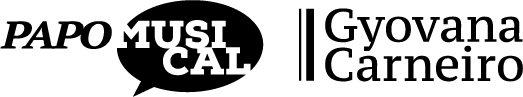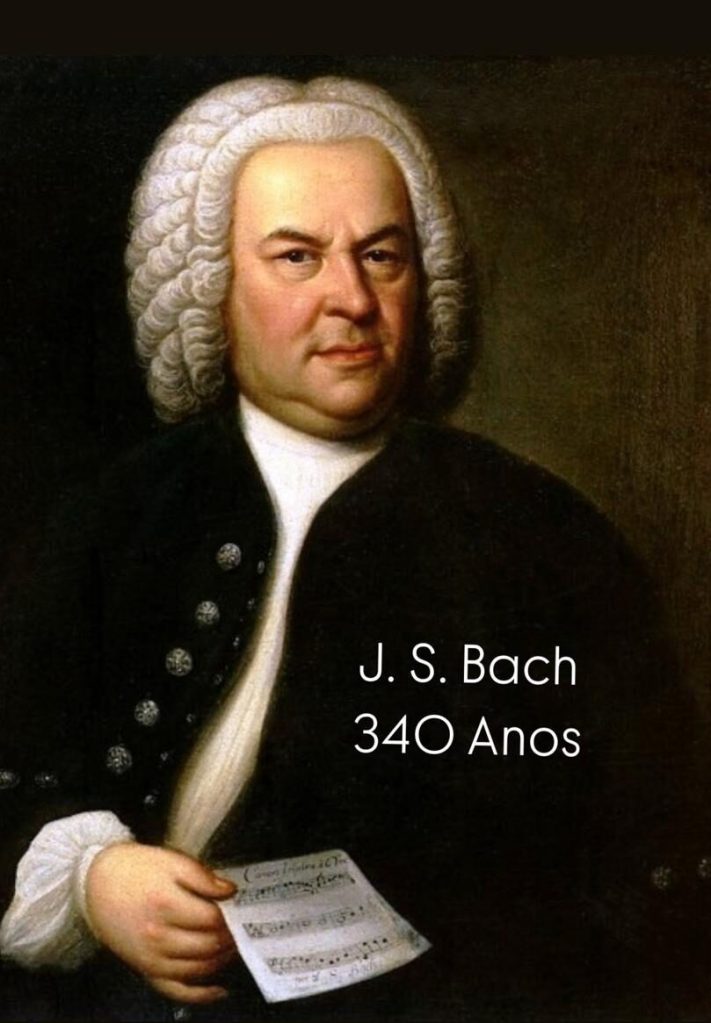Teatro Goiânia em 1942, ano de sua inauguração. Batismo Cultural da cidade de Goiânia
Foto: IBGE
Há cidades que se explicam pelos seus palcos. Basta atravessar um saguão, sentir o verniz antigo das madeiras e o brilho da luz antes do primeiro acorde para entender que ali pulsa mais que espetáculo: pulsa identidade. Do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que abriu a Cinelândia para a modernidade com sua opulência à la Garnier, ao Teatro Amazonas, sonho lírico erguido no auge do ciclo da borracha, o Brasil fez de seus teatros uma cartografia afetiva. No mapa, marcos neoclássicos, art nouveau e art déco formam uma constelação de pertencimento: o Theatro da Paz, em Belém, que espelha a Belle Époque amazônica; o José de Alencar, em Fortaleza, rendado de ferro escocês e jardim sonhado; o Arthur Azevedo, em São Luís, o segundo mais antigo do país, renascido tantas vezes quanto a teimosia da própria arte; o Municipal de São Paulo, palco da Semana de 22 e de tantas rupturas necessárias.
Cada um deles guarda um capítulo da nossa história: revoluções de gosto, encontros improváveis, plateias que saíram diferentes de como entraram. São casas que não existem sem o público, e, por isso, trabalham como corações: contraem-se no silêncio, expandem-se no aplauso, irrigam a cidade com memória e desejo.

Batismo Cultural de Goiânia – Foto: Acervo IFG
É com esse mapa no bolso que chegamos a Goiânia, jovem no calendário, grandiosa no gesto. Em 24 de outubro, a capital completa 92 anos, e seu teatro-símbolo pede licença para lembrar que, aqui, a cultura sempre foi projeto de futuro. Muito antes da festa de aniversário, a cidade já ensaiava o passo firme: em 5 de julho de 1942, o amanhecer foi de alvorada e fogos para o Batismo Cultural de Goiânia. A semana seguinte virou palco a céu aberto, atraindo personalidades políticas, artísticas, eclesiásticas e intelectuais de todo o país. Houve missa campal guiada por Dom Emanuel Gomes de Oliveira e Dom Aquino Corrêa, gesto que selou uma nova aliança entre Igreja e Estado em Goiás. Getúlio Vargas emprestou peso político à ocasião: vieram o VIII Congresso Brasileiro de Educação, a Assembleia do IBGE, discussões febris, o lançamento da revista Oeste e um cortejo de visitantes estrangeiros, cerca de seiscentos.
No centro dessas celebrações, ergueu-se o então Cine Teatro Goiânia, inaugurado com “Deus lhe pague”, protagonizada por Eva Tudor. No mesmo palco, Pedro Ludovico Teixeira entregou a chave simbólica da cidade a Venerando de Freitas Borges, prefeito indicado da nova capital. O prédio nascera pensado para o cinema, e, embora sonhasse a cena teatral, o palco modesto ainda não comportava as montagens amplas que a cidade ensejava. Mesmo assim, durante as décadas de 40, 50 e 60, o endereço virou ponto de encontro: filmes nacionais e estrangeiros, formaturas, solenidades, encontros de uma Goiânia que aprendia a se ver na tela e na sociabilidade.

Margot Fonteyn e David Wall
Veio a década de 70 e, com ela, a derrocada dos grandes cinemas. Em 1976, as portas se fecharam para uma reforma decisiva. A cidade não desistiu. Ao contrário: decidiu que era hora de abandonar o “cineteatro” e entregar-se ao teatro, com todas as letras, e com toda a técnica. A aposta foi recompensada na noite de 15 de março de 1978. A Associação de Ballet do Rio de Janeiro trouxe ao palco Margot Fonteyn e David Wall. Depois do espetáculo, Fonteyn disse à imprensa o que os goianienses já intuíram ao primeiro levantar de pano:
“O equipamento eletrônico do Teatro Goiânia coloca esta casa na liderança dos teatros do Brasil e
Em 1998, o Teatro Goiânia passou por uma nova reforma, que o modernizou sem perder o encanto original. A consagração veio em 2003, com o tombamento pelo IPHAN, reconhecendo-o como parte do conjunto moderno e urbanístico de Goiânia, ícone do estilo Art Déco. Hoje, com capacidade para 850 espectadores, o Teatro Goiânia acolhe: teatro, dança, concertos, festivais, shows, e reafirma, em cada luz acesa, a vocação luminosa de sua primeira juventude. A plateia, essa sim, permanece a mesma: curiosa, calorosa e fiel ao belo hábito de encontrar-se com a arte.
Há, no entanto, um detalhe que diz muito sobre quem somos: o hall leva o nome de “Tia Amélia”. Amélia Brandão Nery nasceu em Pernambuco, brilhou como pianista e compositora nos grandes centros, e escolheu Goiânia para viver seus últimos anos. Abriu uma escola, agregou na formação de grandes artistas. Alguns nomes de sua linhagem afetiva: Heloisa Barra, Estércio Marquez Cunha, Maria Augusta Callado e Glacy Antunes de Oliveira. É justo que, ao atravessar o foyer, a cidade seja recebida por uma musicista que fez da arte um ato de amor.
Se os grandes teatros do Brasil são faróis, o Teatro Goiânia é a nossa luz de varanda: próxima, quente, acesa todas as vezes que a cidade precisa se reconhecer. Ele guarda o eco de 1942 e a ousadia de 1978; guarda a persistência das reformas, o zelo do tombamento, o burburinho dos festivais e a respiração prendida nos silêncios antes do primeiro gesto do maestro.
Ao celebrar os 92 anos de Goiânia, em 24 de outubro, celebramos também o lugar que nos ensinou a ver e a ouvir, e que, tantas vezes, nos ensinou a sermos plateia um do outro. Que os próximos atos sejam de casas cheias, artistas bem recebidos e bem remunerados e de um palco que continue sendo o ponto de encontro entre o que fomos e o que ainda seremos.
Vida longa ao Teatro Goiânia. Vida longa à Goiânia que a aplaude.
E porque um teatro também se explica pela música que carrega, sugerimos um pequeno ritual para este aniversário: antes da próxima sessão, procure ouvir a “Valsa Gratidão”, de Tia Amélia, composta quando ela tinha apenas 12 anos, em gravação delicadíssima, com Hércules Gomes (piano) e Rodrigo Y Castro (flauta). Note como essa gravação é refinada, um encontro entre a técnica e a ternura emocional que marcam a obra de Tia Amélia.
Ao fim, a “Valsa Gratidão” parece nos devolver à entrada do Teatro Goiânia, um lugar onde a música e a história se encontram de mãos dadas, olhando o futuro com esperança.